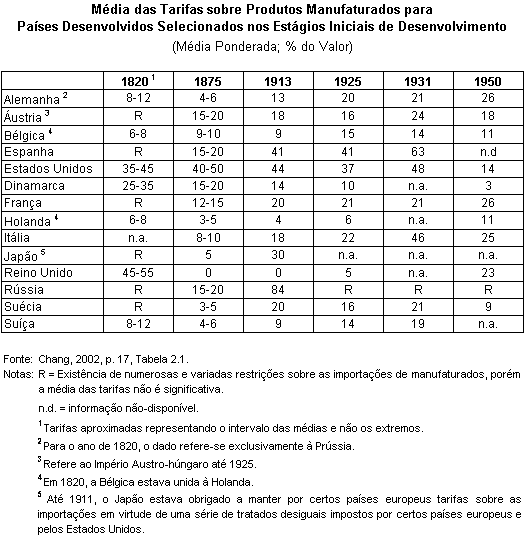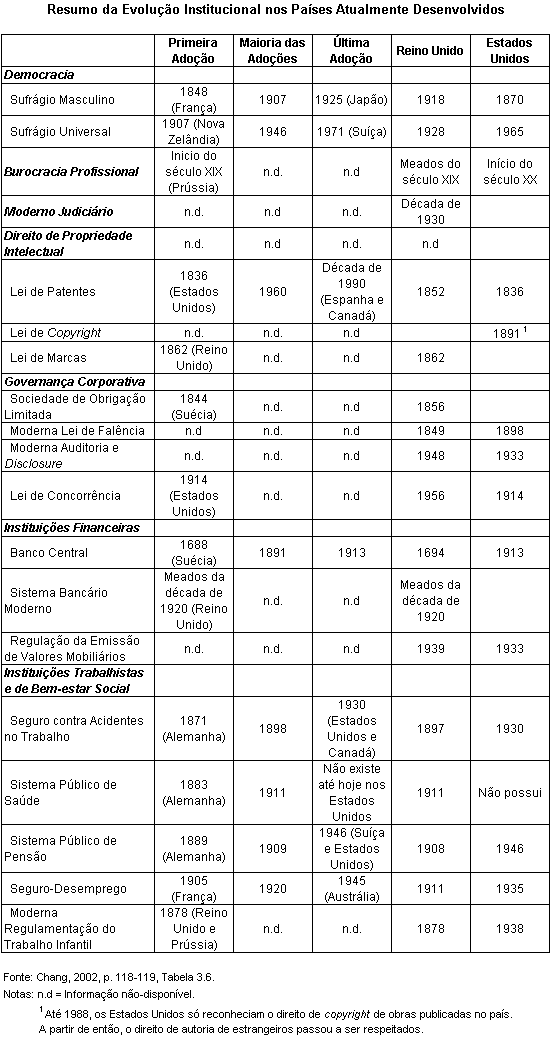Carta IEDI
Como os Ricos Tornaram-se Ricos?
No livro Kicking Away The Ladder: Development Strategy In Historical Perspective (Anthem Press de Londres, 2002), o professor da Universidade de Cambridge Ha-Joon Chang critica as ações de países e organizações internacionais para que os países em desenvolvimento não façam uso de políticas estratégicas.
Sua análise parte do processo histórico do desenvolvimento das nações hoje industrializadas e desenvolvidas, como Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, Suécia, dentre outros.
O autor mostra que estes países utilizaram largamente práticas, instrumentos e estratégias de desenvolvimento que atualmente não são permitidas aos países em desenvolvimento.
Dentre as estratégias adotadas pelos países atualmente desenvolvidos, as barreiras tarifárias foram um instrumento importante, mas não o único e tampouco o principal.
Os governos forneceram subsídios à atividade industrial e às exportações, concederam monopólio, estimularam fusões e a criação de cartéis em indústrias-chave implementaram programas de financiamento público para os investimentos em infra-estrutura e na indústria manufatureira e apoiaram o desenvolvimento tecnológico.
Também criaram mecanismos institucionais para estimular a cooperação pública-privada, como associações industriais com vínculos com os governos e joint ventures de controle misto.
Apoiaram a aquisição de tecnologia estrangeira, seja por meios legais como o financiamento de cursos e viagem de aprendizado, contratação de especialistas e organizações de feiras, seja até, segundo Chang, por meios ilegais como apoio ao contrabando, espionagem industrial e recusa em reconhecer patentes estrangeiras.
Os instrumentos de política de promoção industrial variaram consideravelmente de um país a outro, em função tanto dos seus objetivos como das condições prevalecentes em cada um deles.
Em suma, até se tornarem economias desenvolvidas, a ampla maioria dos países industrializados usou de forma ativa políticas comerciais, industriais e tecnológicas hoje consideradas “más” e que devem ser evitadas, quando não são formalmente proibidas pela Organização Mundial do Comércio (OMC).
O autor defende que os países em desenvolvimento possam adotar políticas e instituições em conformidade aos seus estágios de desenvolvimento, que viabilizem um ritmo acentuado de expansão. Os benefícios em termos de um progresso sócio-econômico mais rápido não ficariam restritos a eles, mas também alcançariam os países já desenvolvidos, mediante a ampliação das oportunidades de investimento e de comércio em âmbito mundial.
Desenvolvimento industrial na perspectiva histórica. Na interpretação corrente, são ressaltados o êxito do laissez-faire britânico na segunda metade do século XIX e a superioridade das políticas de livre mercado em contraposição ao intervencionismo francês, à época seu principal oponente.
Mas nem sempre os países anglo-saxões foram adeptos do liberalismo econômico. Segundo Chang, estes países defenderam e implementaram políticas protecionistas até a consolidação do desenvolvimento econômico. Deste momento em diante é que a promoção do livre-comércio passou a prevalecer.
Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha foi o primeiro país a desenvolver “a arte de promoção da indústria nascente”. Mediante um sistema de restrições, encorajamento e ofertas de privilégio, “procurava-se atrair para o país a riqueza, o talento e o espírito empresarial dos estrangeiros”, em particular os italianos, holandeses e belgas, cujas manufaturas eram mais desenvolvidas do que as inglesas. Posteriormente, no final do século XVIII, com a primazia industrial consolidada, os economistas e políticos ingleses desenvolveram (por motivos nacionalistas, observa o autor) a doutrina do livre comércio e do livre mercado. Sem dúvida, o liberalismo favorecia enormemente a Inglaterra, mas não os países menos desenvolvidos que naquela época procuravam se industrializar.
Estados Unidos. Os Estados Unidos adotaram, igualmente, a partir de 1816 e até 1946, com grande sucesso, políticas ativas de proteção à indústria nascente. Durante mais de um século, os Estados Unidos possuíram uma das mais elevadas taxas médias de proteção tarifária do mundo. Ademais, o governo desempenhou um papel-chave no desenvolvimento da infra-estrutura econômica e no apoio financeiro às atividades de pesquisa e desenvolvimento. Este último, aliás, se mantém até os dias de hoje.
Ao longo do século XIX e início do século XX, os Estados Unidos permaneceram os mais ardentes defensores intelectuais e praticantes do protecionismo econômico. Somente quando a supremacia industrial tornou-se incontestável, após a segunda grande guerra, os Estados Unidos, seguindo o exemplo inglês no século precedente, passaram a promover o livre comércio.
França. Outra interpretação corrente contestada por Chang diz respeito à França, cujo atraso econômico no século XIX em comparação com a Grã-Bretanha é atribuído ao governo altamente intervencionista. Ao contrário da visão convencional, o regime político francês praticou o liberalismo econômico de modo mais acentuado do que seus congêneres anglo-saxões, mantendo um grau de protecionismo muito inferior ao verificado na Grã-Bretanha até 1860 e nos Estados Unidos ao longo do século XIX e primeira metade do século XX. Apenas após a segunda guerra mundial, o governo francês adotou uma estratégia política intervencionista, a qual obteve um enorme sucesso na modernização industrial do país. Segundo Chang, a relativa estagnação industrial e tecnológica da economia francesa que só foi superada a partir da adoção da estratégia intervencionista, reforçaria, portanto, a validade do argumento da indústria nascente.
Suécia. Um outro modelo foi adotado na Suécia, onde predominaram esquemas de parceria entre o setor público e o setor privado. Embora seja considerada um exemplo de “pequena economia aberta”, a história revela que a Suécia não adotou o regime do livre comércio antes da segunda metade do século XX.
Além de políticas de proteção tarifária, concessão de subsídios à indústria, em particular ao setor de novas engenharias, e de suporte financeiro direto às atividades de pesquisa e desenvolvimento da indústria, o governo praticou uma política de estreita cooperação com o setor privado, sem paralelo nos demais países, à exceção da Alemanha.
Mediante esquemas de parceria, o Estado sueco atuou no desenvolvimento da infra-estrutura econômica, participando da construção de sistema de drenagem e irrigação, de ferrovias, redes de telégrafo e telefones, hidroelétricas, e de atividades industriais, como siderurgia e indústria de bens de capital. Adicionalmente, com a preocupação de qualificar a mão-de-obra, o governo tornou o ensino fundamental obrigatório, apoiou a criação de institutos de pesquisa e patrocinou viagens de estudo para viabilizar a aquisição de tecnologias estrangeiras avançadas.
Também após a segunda-guerra, a estratégia de atualização e modernização industrial sueca no sentido de promover as atividades de maior valor agregado se diferenciou dos demais países desenvolvidos. O modelo sueco inovou ao combinar uma política ativa no mercado de trabalho, que promovia a realocação e requalificação de mão-de-obra dispensada no processo de upgranding industrial, com negociações salariais coletivas “solidárias”, com vista a promover a equalização dos salários para o mesmo tipo de trabalhadores no conjunto das indústrias.
Japão. País de industrialização tardia em comparação com os Estados Unidos e países da Europa Continental, o Japão implementou, a partir de 1868, uma ampla estratégia de desenvolvimento, combinando um amplo conjunto de instrumentos, incluindo dirigismo estatal para a criação de indústrias-chave, contratação de técnicos estrangeiros especializados, concessão de subsídio para importação de matérias-primas, financiamento da educação e infra-estrutura econômica e adoção de elevadas tarifas de proteção. Criou inúmeras instituições (instituição de ensino fundamental, universidades, legislação criminal, comercial e civil, banco central, sistema bancário, forças armadas), inspirando-se em modelos vigentes nos países estrangeiros desenvolvidos, mas assimilando e adaptando-as à cultura japonesa. No pós-guerra, o papel do Estado foi reforçado, mediante o uso inovador das políticas industriais, comerciais e tecnológicas. Ao mesmo tempo, surgiram importantes inovações institucionais, como o emprego vitalício e as redes de subcontratação duradoura de pequenas empresas.
O forte ativismo estatal na utilização das políticas industrial, comercial e tecnológica explica, segundo o autor, o espetacular crescimento da economia japonesa, particularmente até os anos 70. Entre 1950 e 1973, PIB per capita no Japão cresceu mais de 8% ao ano, ou seja, mais do que dobro da taxa média de crescimento dos 16 países membros da OCDE (3,8%, incluindo o Japão).
Países de nova industrialização. Nesse mesmo período, taxas de crescimento expressivas também foram apresentadas por países como Coréia do Sul (5,2%) e Taiwan (6,2%) que adotaram estratégias de catch-up semelhantes à do Japão. No entanto, Chang ressalta que, a despeito das semelhanças entre as políticas implementadas pelos países asiáticos recém-industrializados (NICs) e aquelas dos NDCs (now-developed countries) no passado (desde o século XVIII na Grã-Bretanha até as primeiras décadas do século XIX no caso dos Estados Unidos, Alemanha e Suécia), as políticas comerciais, industriais e tecnológicas dos países asiáticos foram mais sofisticadas e precisas do que os seus equivalentes históricos. Em especial, estes países concederam substanciais subsídios, diretos e indiretos, às exportações, ao invés de utilizarem imposto sobre exportações como nos casos anteriores.
Com a implementação de regulação e controle da entrada e saída das empresas, dos investimentos e dos preços praticados procurou-se organizar a concorrência na indústria e assim evitar práticas predatórias e o desperdício de recursos. Embora lembrem as políticas de cartel adotadas em vários NDCs no final do século XIX e início do século XX, a regulação econômica promovida pelos países asiáticos considerava tanto os perigos do abuso do monopólio como era mais sensível aos seus impactos no desempenho do mercado exportador.
Igualmente, a coordenação dos investimentos foi sistematizada em um planejamento indicativo e na programação dos investimentos governamentais. Também a qualificação da mão-de-obra foi objeto de um cuidadoso planejamento, que envolveu educação, treinamento e a concessão de subsídios às atividades de pesquisa e desenvolvimento.
Instituições da “boa governança”. Em relação ao desenvolvimento das instituições de “boa governança”, Chang destaca que, a despeito da dificuldade de efetuar generalizações em virtude da especificidade cultural dos distintos países, este processo foi extremamente lento na grande maioria dos NDCs. Algumas instituições, como a democracia, precisaram de séculos para se consolidar.
Muitas instituições só foram introduzidas tardiamente ou permaneceram sem efetividade, por várias décadas, quando adotadas nos estágios iniciais de desenvolvimento, em virtude das resistências que suscitavam. Alguns dos exemplos mais evidentes são: a legislação trabalhista,o sistema de proteção social, o sufrágio universal e a tributação da renda, dentre outros. Em outros casos, como a legislação de governança corporativa e financeira, a falta de recursos para administração e controle contribuiu para que permanecesse sem aplicação mesmo após a adoção (ver, para mais detalhes, a tabela ao final do texto).
A análise da experiência histórica dos NDCs revela, segundo Chang, que muitas vezes são descabidas as pressões atualmente feitas para que os países em desenvolvimento adotem “instituições padrões mundiais” imediatamente ou nos próximos cinco a dez anos, sob pena de punição, sob a forma de interdição ao apoio financeiro dos organismos multilaterais ou retaliações comerciais, entre outras. Na realidade, várias das instituições incluídas no pacote de boa governança surgiram como resultado e não como causa do desenvolvimento econômico dos NDCs.
Acesso restrito ao clube dos desenvolvidos. Chang ressalta que enquanto os países “agora desenvolvidos” se encontravam em posição inferior aos seus concorrentes, não mediam esforços para alcançá-los, seja pela adoção de políticas de proteção à indústria e de atração de trabalhadores estrangeiros qualificados, seja pelo apoio ao contrabando de máquinas, à espionagem industrial e à violação de marcas e patentes. Ao se tornarem desenvolvidos e tendo atingido a fronteira tecnológica, porém, estes países buscavam restringir o acesso dos competidores existentes e potenciais aos seus mercados e tecnologias. De um lado, passaram a defender o livre comércio, impondo tratados comerciais desfavoráveis às nações menos desenvolvidas; de outro, se transformaram em defensores de marcas e patentes.
O caso da Grã-Bretanha é ilustrativo, segundo o autor. Além de adotar severas restrições à industrialização de suas colônias e de banir seus produtos do mercado (têxteis indianos e lã irlandesa, por exemplo), o autor afirma que o governo britânico fez uso da força para obrigar países menos desenvolvidos a abrir seus mercados aos produtos ingleses. Ademais, ainda no século XVIII proibiu a migração de trabalhadores qualificados e adotou medidas de controle sobre a exportação de maquinaria, legislação que só foi abolida em 1842.
Menos do que um ato em prol do livre comércio, a suspensão das restrições à migração de mão-de-obra qualificada e exportação de máquinas e equipamentos refletiu os avanços nas tecnologias-chave que dificultavam o catch-up das nações ainda em desenvolvimento. Neste contexto, o licenciamento de patentes tornou-se um importante canal de transferência do conhecimento tecnológico.
No último quartel do século XIX, vários países adotaram legislação de patentes, as quais eram, contudo, muito deficientes quando comparado com o padrão atual do Trips (trade related intelectual property rigths), cuja adoção vem ampliada entre os países em desenvolvimento, no âmbito da OMC.
Os Estados Unidos, atualmente um dos principais defensores de patentes e do direito de propriedade intelectual, permitiu a violação de patentes de cidadãos estrangeiros até 1891, não exigindo prova de originalidade e autorizando o registro por nacionais de tecnologia importada. Igualmente, a Suíça só introduziu uma legislação de patentes em 1907, após ter se tornado um dos líderes mundiais em tecnologia.
Segundo ainda Chang, este comportamento tem levado os países a interpretar como hipocrisia a defesa das virtudes do livre-comércio e das políticas de laissez-faire. No século XIX, este sentimento prevalecia na Alemanha e nos Estados Unidos em relação à Grã-Bretanha. Atualmente, este mesmo sentimento vem à tona entre vários países em desenvolvimento quando os negociadores de países desenvolvidos na OMC procuram convencê-los das vantagens de abrirem suas economias e aderirem à nova ordem da globalização.
O autor observa ainda que, enquanto os organismos financeiros multilaterais vem há quase duas décadas estimulando as ações em prol da abertura comercial e financeira dos países em desenvolvimento, a OMC tem procurado limitar a utilização por estes países de vários dos instrumentos de promoção à indústria doméstica e às exportações, como a concessão de subsídios. Em resultado, os atuais países em desenvolvimento são muito menos protecionistas do que foram os países agora desenvolvidos (NDCs) quando estavam no mesmo estágio de desenvolvimento.
Adicionalmente, destaca também Chang - comparando o enorme desnível de produtividade hoje existente entre as nações desenvolvidas e aquelas em desenvolvimento com o que prevalecia no passado, entre os NDCs, mais e menos desenvolvidos -, os atuais países em desenvolvimento precisariam praticar tarifas de proteção bastante elevadas, superiores àquelas adotadas pelos NDCs quando ainda estavam se desenvolvendo.
A título de exemplo, no século XIX, a tarifa média de proteção à indústria praticada pelos Estados Unidos era superior a 40% e a renda per capita em termos de paridade do poder de compra (PPP) correspondia a mais de 75% da britânica (US$ 2.599 contra US$ 3.511 em 1875). Na seqüência de acordos no âmbito da OMC, o Brasil reduziu a média da tarifas comerciais ponderadas de 41% para 27%, enquanto a renda per capita em termos da PPP equivalia apenas a 20% da norte-americana (US$ 6.840 contra US$ 31.910).
Como os países ricos tornaram-se realmente ricos? Em suma, dessas experiências de países hoje desenvolvidos, Chang extrai diversas lições para os problemas do desenvolvimento contemporâneo.
Em primeiro lugar, destaca evidências de que as nações atualmente desenvolvidas não seriam o que são hoje se tivessem, no passado, adotado as políticas e as instituições que recomendam atualmente aos países em desenvolvimento.
Até o final do século XIX e início do século XX, quando se tornaram economias desenvolvidas, a ampla maioria dos países desenvolvidos usou de forma ativa políticas comerciais, industriais e tecnológicas - como proteção à indústria nascente, subsídios às exportações e controle de transferência de conhecimento -, ou seja, práticas que hoje são consideradas “más” e, portanto, devem ser evitadas, quando não são formalmente proibidas pela Organização Mundial do Comércio (OMC).
Uma segunda observação sua é que estes países sequer possuíam as instituições que consideram essenciais para as nações em desenvolvimento, incluindo o “básico” banco central independente e sociedades de obrigação limitada (limited liability compagnies).
Dentre as estratégias de catch-up adotadas pelos NDC, as barreiras tarifárias foram um instrumento importante (ver a tabela no final do texto), mas não o único e tampouco o principal.
Os governos forneceram subsídios à atividade industrial e às exportações, concederam monopólio, estimularam fusões e a criação de cartéis em indústrias-chave, bem como implementaram vários programas de financiamento público para os investimentos em infra-estrutura e na indústria manufatureira.
Também criaram mecanismos institucionais para estimular a cooperação pública-privada, como associações industriais com vínculos com os governos e joint ventures de controle misto.
Apoiaram ainda a aquisição de tecnologia estrangeira, seja por meios legais como o financiamento de cursos e viagem de aprendizado, contratação de especialistas e organizações de feiras, seja até, segundo Chang, por meios ilegais como apoio ao contrabando, espionagem industrial e recusa em reconhecer patentes estrangeiras.
Os instrumentos de política de promoção industrial variaram consideravelmente de um país a outro, em função tanto dos seus objetivos como das condições prevalecentes em cada um deles.
Por exemplo, nos Estados Unidos, a proteção tarifária foi um instrumento mais usado do que na Alemanha, onde o Estado desempenhou um papel direto na promoção da industrialização ao contrário do norte-americano.