Carta IEDI
Ocorreu uma Desindustrialização no Brasil?
O quadro macroeconômico atual é hostil à indústria e ao crescimento e está na contramão das experiências bem sucedidas de desenvolvimento. O dilema entre estabilização e crescimento econômico é falso. Falta clareza aos nossos governos quanto às condições necessárias para realizar um projeto de desenvolvimento. Por este motivo, a gestão da economia tem privilegiado a estabilidade da moeda, o que é desejável, em detrimento da produção e do emprego, o que é lamentável. Falta ao país um verdadeiro projeto de desenvolvimento. E faltam condições para uma reindustrialização.
No encerramento do seminário internacional sobre Industrialização, Desindustrialização e Desenvolvimento, realizado no dia 28/11/2005, em São Paulo, a Fiesp e o IEDI divulgaram um manifesto cuja íntegra é reproduzida a seguir:
MANIFESTO PELO DESENVOLVIMENTO DO BRASIL
Os países em desenvolvimento sabem que, para alcançar as condições de vida e de bem estar das nações desenvolvidas, precisam assegurar taxas de crescimento econômico significativamente superiores à média mundial.
Desejo de muitos, sucesso de poucos. Os vitoriosos se impõem diante dos que fracassam por sua tenacidade na construção de um projeto nacional de desenvolvimento, mediante a aplicação de políticas adequadas, pela busca de uma inserção qualificada à economia internacional e pela capacidade gerencial de seus governos.
Nas duas últimas décadas, o Brasil se alinhou entre os que não conseguiram acompanhar o ritmo de expansão e o grau de modernização da indústria e dos serviços, marca registrada dos processos de evolução dos países emergentes de maior dinamismo.
Vivemos momento histórico em que rápidas transformações econômicas estão posicionando as economias emergentes em dois grupos distintos: as propulsoras do crescimento futuro - e que, nessas condições estarão credenciadas a superar o subdesenvolvimento -, e as que ficarão para trás. O declínio da posição relativa do Brasil no cenário mundial, a ampliação da distância que nos separa dos mais agressivos protagonistas na corrida para o desenvolvimento serão fatais e definitivas se não nos mostrarmos capazes de reorientar nossa estratégia econômica em favor do crescimento acelerado.
O projeto brasileiro de desenvolvimento tem que definir, com clareza, seus eixos de expansão. O território, a população e o grau de urbanização não concedem ao Brasil alternativa senão o dinamismo sustentado da indústria, enquanto motor do crescimento econômico e das transformações sociais.
Para retomar taxas elevadas de crescimento industrial, o Brasil conta com enorme potencial: sua agropecuária, seu invejável manancial de recursos naturais, mercado interno amplo, além de comprovada capacidade de seus empresários e trabalhadores para empreender, inovar e participar competitivamente da economia global.
Falta clareza a nossos governos quanto às condições necessárias para realizar um projeto de desenvolvimento. Por isto, a gestão da economia tem privilegiado a estabilidade da moeda – o que também queremos – em detrimento da produção e do emprego – o que lamentamos. É falso o dilema entre estabilização e crescimento econômico, mas a verdade é que os instrumentos para a promoção do crescimento transformam-se, freqüentemente, em um mero subproduto das políticas de estabilização.
O seminário "Industrialização, Desindustrialização e Desenvolvimento" pretendeu mostrar que desindustrialização, entendida como a perda relativa do vigor do setor produtivo, já ocorre em nosso país. É crucial reverter este processo, promover uma imediata retomada do dinamismo da indústria e, junto com ela, a marcha acelerada para o crescimento.
A indústria necessita, assim como os demais setores produtivos, de um ambiente adequado para seu crescimento. No Brasil os juros altos, a carga tributária excessiva, o câmbio valorizado e volátil, a carência de investimentos e de infra-estrutura configuram um quadro macroeconômico absolutamente hostil e na contramão das experiências bem sucedidas de desenvolvimento. Imaginar uma economia capaz de sobreviver e crescer sob tais condições é não só apostar no improvável, como olhar com indiferença para as perspectivas de desenvolvimento futuro.
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP – e o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial – IEDI – vêem com preocupação os rumos que estão sendo impostos ao processo de desenvolvimento brasileiro. Decididamente, por esses caminhos os anseios legítimos do conjunto da sociedade brasileira não serão alcançados. Por isso, reafirmamos nossas convicções: é indispensável ter um verdadeiro projeto de desenvolvimento, assumir o papel preponderante da indústria nesse projeto e cuidar das condições macroeconômicas que a estimule.
Não haverá desenvolvimento, com equilíbrio interno e externo, como deseja o povo brasileiro, sem as condições adequadas para uma indústria forte, moderna e competitiva.
FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
IEDI - Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial
O texto a seguir aborda o tema da desindustrialização no Brasil.
Observações Gerais e Principais Conclusões. Vários termos e expressões têm sido utilizados nas discussões sobre as mudanças na estrutura da indústria provocadas pela abertura comercial e políticas macroeconômicas adotadas nos anos 1990 no Brasil, assim como em diversos países latino-americanos: desindustrialização, desindustrialização prematura, desindustrialização relativa, especialização, especialização regressiva.
O termo desindustrialização muitas vezes é utilizado com uma conotação negativa, sinônimo de destruição da indústria, ou de alguns de seus mais importantes setores. Mas essa não é a acepção mais aceita na literatura econômica, nem é a mais adequada interpretação para se aplicar a um caso como o do Brasil nas duas ultimas décadas. Nesses termos, a desindustrialização pode ser tomada como o declínio da produção ou do emprego industrial em termos absolutos ou como proporção do produto ou emprego nacional. É, na maioria das vezes, uma conseqüência normal de um processo de desenvolvimento econômico bem sucedido, estando geralmente associado a melhorias do padrão de vida da população. Neste padrão “normal” em um primeiro momento cai a participação da agropecuária no produto interno bruto (PIB) e aumenta a expressão da indústria. No segundo, é o setor serviços que ganha espaço e a indústria perde peso.
O tema foi recentemente recolocado no Trade and Development Report 2003 da UNCTAD, que aponta que os tigres asiáticos de primeira geração já teriam uma economia madura, estando prestes a iniciar um processo de desindustrialização positiva, como ocorreu nos países desenvolvidos, fruto de seu notável desenvolvimento econômico.
Em contraposição quase toda a América Latina, incluindo o Brasil, estaria passando por uma “desindustrialização negativa”, consistindo esta na redução da importância do setor industrial no produto e no emprego, num contexto de desaceleração generalizada do crescimento econômico como resultado de processos de abertura realizados equivocadamente e de aplicação de políticas macroeconômicas adversas para o desenvolvimento produtivo adotadas no continente.
No Brasil, de fato, houve um retrocesso muito intenso da indústria no PIB, sendo que esse processo teve início anteriormente à abertura e à aplicação das políticas dos anos 1990. A queda da participação da indústria foi iniciada já nos anos 1980, como decorrência da crise inflacionária vivida pelo país e das políticas de contenção que foram aplicadas para combater a recorrente ameaça de hiperinflação que se apresentou ao longo de toda a década. O processo teve seguimento nos anos 1990, prolongando-se até 1998, agora, sim, como resultado propriamente das políticas que caracterizaram aquela década. Nesta época, foi promovida uma abertura com muitas falhas e uma deliberada sobrevalorização da moeda nacional que somente seria revertida com a maxidesvalorização do Real em 1999. É muito importante sublinhar que o processo de perda do peso da indústria no PIB somente mostraria sinais de estancamento com a referida desvalorização do Real em 1999.
Ao longo de todo este processo o peso do produto da indústria de transformação cai de 32,1% do PIB em 1986 para 19,7% do PIB em 1998, queda de 12 pontos percentuais, muito alta sob qualquer critério de avaliação, mormente se temos em conta o período relativamente curto (pouco mais de uma década) em que o processo se desenvolveu. Isso por si só já configuraria uma desindustrialização no Brasil, embora se deva advertir que, a despeito disto, a indústria brasileira manteve uma significativa diversificação e que, mesmo tendo perdido segmentos e elos de cadeias decisivas para a industrialização contemporânea, preservou setores de ponta tecnológica e capacidade de ampliar sua produtividade e capacidade exportadora. Não houve, portanto, uma desindustrialização no sentido de perda irreparável na estrutura industrial do país e em sua capacidade dinâmica. Significa que a indústria no país conserva requisitos para reerguer-se e reintegrar-se com maior plenitude nas atuais tendências de industrialização dos países de maior dinamismo industrial. Diante das observações acima, julgamos mais conveniente qualificar a desindustrialização ocorrida no Brasil como “relativa”.
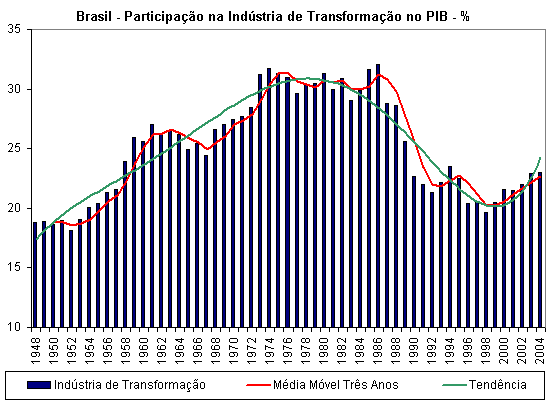
Devemos observar que desde 1999, os dados parecem indicar uma fase de recuperação da expressão da indústria na economia. Em 2003, a participação da indústria no PIB chega a 23% e, segundo dados preliminares, a 23,1% em 2004. Não é por acaso que a reação industrial ocorre após a desvalorização cambial ocorrida no início daquele ano. No caso brasileiro, os dados sugerem uma associação próxima entre câmbio e dinâmica da indústria: sobrevalorizações e desvalorizações da moeda nacional são decisivas como determinantes, respectivamente, de dinâmicas industriais negativas ou positivas. Notar que as informações disponíveis ainda não puderam detectar o novo retrocesso da participação industrial na economia que terá lugar se for mantida a forte valorização do Real ocorrida no período mais recente.
Podemos ainda qualificar a “desindustrialização” ocorrida no Brasil em outras três direções.
Como o Brasil não vem conseguindo acompanhar a evolução da indústria e dos serviços industriais modernos típicos da evolução dos países emergentes de maior dinamismo, isto pode ser entendido como uma outra modalidade de desindustrialização relativa. De fato, entre 1990 e 2003, enquanto a média anual de crescimento do produto da indústria de transformação no Brasil crescia 1,6% (tal média sobe para 2%, levando em conta a estimativa preliminar de crescimento da indústria de transformação – 7,7% para o ano de 2004), na China alcançava 11,7%, 7,4% na Coréia e 6,5% na Índia. Em países latino-americanos como Argentina e Chile a evolução alcançou, respectivamente, 0,7% e 3,6%. O desempenho brasileiro não foi capaz de acompanhar nem mesmo os países de renda alta (aumento anual médio de 2,5%), muito menos os países de renda média e baixa (6%). A constatação de que em países do leste da Ásia e Pacífico a evolução industrial no mesmo período subiu a 10% ao ano e que os países da América Latina e Caribe cresceram apenas 2% a.a., bem resume para onde se moveu o mapa da industrialização dos países emergentes na última década e meia.
Do ponto de vista do IEDI, esta ampliação da distância que vem separando o Brasil com relação aos mais agressivos protagonistas na corrida da industrialização será fatal e definitiva se o país não se mostrar capaz de reorientar sua estratégia econômica.
Por outro lado, a “desindustrialização relativa” é um termo também pertinente para designar uma condição estrutural do crescimento brasileiro das últimas décadas, no qual o baixo desempenho médio industrial não foi compensado pelos setores que substituíram a indústria como líderes do crescimento do PIB total. Esses novos líderes não tendo a mesma força e os mesmos impactos que a indústria apresenta sobre a sua própria dinâmica e sobre a dinâmica de outros setores, não abriram caminho senão para um crescimento econômico apenas modesto para a economia brasileira como um todo.
Outros países que lograram conservar o alto desempenho industrial como motor do crescimento alavancaram uma maior evolução global de suas economias. No Brasil, como na América Latina, a renúncia ao papel motor que a indústria exercera até os anos 1970, pode ser entendida como uma forma de desindustrialização, que, no caso, podemos qualificar de “precoce”. Precoce porque ao se abrir mão da dinâmica industrial se abriu mão também de um crescimento econômico mais rápido. No caso brasileiro, somente em uma parcela modesta o baixo crescimento industrial dos anos 1990/2003 (1,6% a.a.) foi compensado pelo maior dinamismo de outros setores, de forma que o PIB global aumentou em média apenas 2,6% ao ano (2,8% se considerarmos a projeção preliminar de crescimento do PIB de 2004, 4,9%), gerando um crescimento do PIB per capita próximo a 1% a.a. no período. Na média da América Latina, onde este modelo de desenvolvimento foi predominante, a evolução do PIB também foi baixa: 2,7%, ao passo que entre os países do leste da Ásia e Pacífico, que, em termos gerais seguiram o modelo de industrialização, o progresso do PIB puxado pela indústria, foi muito maior: 7,6% como média anual.
Para voltar a ter um crescimento acelerado de sua economia o Brasil precisará de uma “reindustrialização”, ou seja, necessitará resgatar a indústria como indutora do crescimento.
Finalmente, a perda de importância de segmentos industriais relevantes e a ruptura de elos em cadeias produtivas foram fatos que ocorreram no Brasil como decorrência das políticas macroeconômicas adotadas desde os anos 1990. Mas, como cabe notar, esses são casos de mudanças na estrutura industrial e não no peso da indústria no PIB, devendo, portanto, ser consideradas como exemplos de desindustrialização relativa. Destacamos:
- Setores tradicionais com têxtil e vestuário, e os ramos das indústrias de material elétrico e eletrônico sinalizaram perda de importância da estrutura industrial ao longo dos anos. Dessa forma, podem ser apontados como casos de desindustrialização localizada.
- Houve uma maior especialização produtiva da indústria, com ênfase em setores intensivos em recursos naturais. Os setores de química, indústrias metalúrgica e siderúrgica e de papel e celulose foram os que se destacaram pelo dinamismo em termos de crescimento da produção no período 1991/2003. Juntos, respondiam por 45,7% do PIB industrial neste último ano, contra 35,9% no início do período.
Note-se que alterações na estrutura industrial seriam inevitáveis em função da abertura e demais políticas dos anos 1990. Mas, no caso do Brasil, seus efeitos teriam sido menores e a desindustrialização poderia ter ocorrido em menor escala se políticas de ajuste e modernização industrial acompanhassem a abertura de importações, como ocorreu em muitos outros países que promoveram processos de abertura. Seriam evitáveis também, sem que isso representasse perda de eficiência e competitividade para a indústria ou outros setores econômicos, se as políticas macroeconômicas, como a de câmbio entre 1994 e 1998, não fossem tão ativas em determinar mudanças nos preços relativos da economia.
Esses diversos casos localizados, porém importantes, de desindustrialização que foram detectados em ramos industriais da indústria brasileira devem servir de lição em eventuais novas edições de processos de abertura: políticas de ajuste e de modernização industrial não podem deixar de acompanhar os processos de abertura de importações, assim como não podem estar ausentes quando mudam varáveis decisivas que definem a estrutura industrial, como é o caso da valorização do Real que ocorre nos dois últimos anos.
O quadro a seguir resume as mudanças na composição da estrutura produtiva brasileira provocadas pelas reformas e políticas macroeconômicas da década de 1990 e primeiros anos da década atual. Setores produtivos com maior dependência de insumos importados e com maior elasticidade de substituição de insumos domésticos por importados, por exemplo, foram mais beneficiados na fase de valorização do câmbio, entre 1994 e 1998. Setores voltados para o abastecimento do mercado doméstico foram beneficiados com a estabilização dos preços nos primeiros anos que se sucederam ao Plano Real. Setores de maior conteúdo de exportação foram favorecidos com a desvalorização cambial após janeiro de 1999.
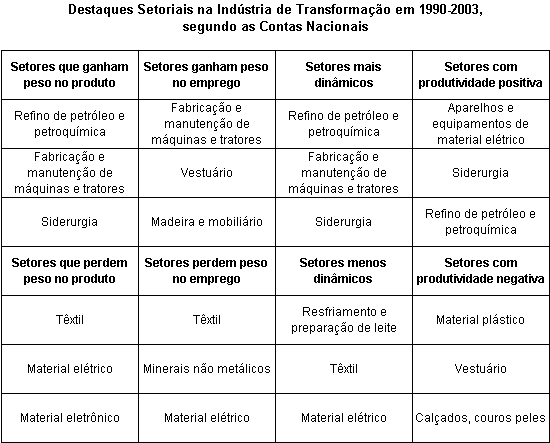
Notar ainda que a referida maior especialização da estrutura produtiva nos segmentos de indústria intensivos em recursos naturais não levou a uma regressão da indústria brasileira do ponto de vista tecnológico. Uma classificação de setores da indústria por grau de intensidade tecnológica, constata que os setores intensivos em tecnologia mantiveram sua participação básica na indústria, muito embora sintomas de desindustrialização tenham sido detectados em diversos segmentos considerados de alta ou média-alta tecnologia.
Mesmo assim deve ser destacado que para a indústria como um todo o conteúdo de valor adicionado por unidade de produto, em média, caiu, passando de 47,1% em 1996 para 43,3% em 2003. Esse é um dado que indica que a indústria agrega menos valor, um sintoma de que houve de fato uma desindustrialização relativa entre os anos 1990 e a atualidade.
Contexto Macroeconômico. Após uma longa convivência com altas taxas de inflação e restrições às importações devido à crise econômica, na década de 1990 o Brasil iniciou um processo de abertura de importações e passou a ter maior estabilidade de preços. A abertura se deu com a redução das tarifas já na entrada dos anos 1990 e a maior estabilidade inflacionária com a implementação do Plano Real em julho de 1994. As menores tarifas aliadas a uma grande sobrevalorização da moeda nacional que se seguiria à criação do Plano Real em 1994 e que se estenderia até janeiro de 1999, impuseram uma mudança significativa na estrutura dos preços relativos da economia, com reflexos diferenciados sobre os mercados de produtos e os custos das empresas.
Em paralelo ao processo de abertura, foram adotadas medidas, cujo objetivo em última instância era criar um ambiente econômico mais estável. A expectativa era que a estabilidade macroeconômica e a maior concorrência criariam um círculo virtuoso de crescimento. Como resultado, esperava-se um aumento na entrada de capital externo e de investimento direto, o que ampliaria a competição nos mercados domésticos e traria equipamentos e insumos mais modernos, promovendo a produtividade da economia. Como posteriormente seria constatado, parte considerável da entrada de investimento externo na década de 1990 dirigiu-se à compra de firmas locais (privadas e estatais privatizadas) e a taxa de investimento da economia manteve-se em patamar baixo.
A estabilização de preços foi acompanhada de desequilíbrio nas contas externas. Crises externas se sucederam (1995, 1997, 1998), expondo a dependência do país aos capitais de curto prazo. O mecanismo de âncora cambial para manter os preços domésticos sob controle na primeira fase do plano de estabilização (1994/1998), na medida em que induziu uma forte valorização do câmbio, fez com que se elevasse o déficit em transações correntes, gerando expectativas pessimistas quanto à possibilidade de seu financiamento via das entradas líquidas de capitais.
No período, os ataques especulativos foram combatidos com a venda de moeda estrangeira das reservas internacionais do país e elevação da taxa de juros. Assim, os elevados déficits externos, provocados tanto pelos saldos negativos na balança comercial como pelos montantes muito mais expressivos de pagamentos de juros e remessas de lucros ao exterior, tornavam crescentes as necessidades de capital externo, impedindo as taxas de juros de caírem, este um fator destacado para explicar o baixo ritmo de evolução da economia em todo o período (2,2% ao ano na média para o período 1995/99).
Assim, ao invés do esperado círculo virtuoso de crescimento que resultaria das aberturas comercial e financeira e da estabilidade de preços, a economia se viu em uma armadilha: seu crescimento era limitado para não debilitar ainda mais as contas externas. Note-se que mesmo após a mudança do regime cambial no início de 1999, a estabilidade cambial não foi assegurada devido aos efeitos negativos acumulados da deterioração nas contas externas e da liberalização financeira. O setor externo brasileiro passou de um déficit de 2,8% do PIB em 1995 para uma média acima de 4% do PIB de 1997 a 2001 e somente a partir de 2003 passaria a registrar saldos positivios, beneficiando-se de inusitada evolução do comércio internacional.
A depreciação do Real em janeiro de 1999 com a mudança do regime cambial não levou a uma explosão inflacionária. Mas, ainda que a estabilidade de preços tenha sido mantida, o novo cenário macroeconômico prevalecente após a adoção do câmbio flexível não contribuiu para reduzir a incerteza das empresas produtivas, que além das altas taxas de juros domésticas passaram a conviver também com a instabilidade da taxa de câmbio.
Na primeira metade da década de 1990 foi registrada a seqüência de maiores taxas de crescimento do PIB (de 1993 a 1995) do período. A partir de 1996, a sucessão de crises externas impôs um ritmo de crescimento modesto à economia, à exceção do ano 2000. No período, a evolução do PIB per capita foi próxima a zero.
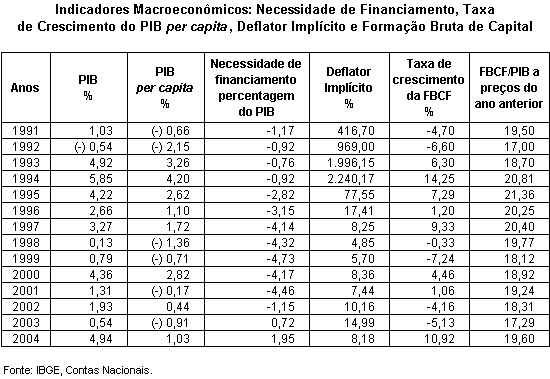
A maior vulnerabilidade externa que acompanhou a abertura pode ser ilustrada na coluna de necessidade de financiamento externo. A crescente dependência de poupança externa só foi revertida em 2003, como já foi observado. O maior êxito da política econômica no período foi o controle da inflação, com o deflator implícito do PIB acusando sensível queda após o Plano Real em 1994. A inflação voltaria a subir em 1999, em razão da desvalorização da moeda e da mudança do regime cambial em janeiro daquele ano, porém sem perda de controle do processo inflacionário. A manutenção de taxas de juros em níveis muito elevados ao longo de todo o período – antes e depois da mudança da política cambial – penalizou as decisões de investimento. A taxa de investimento da economia se manteve restringida devido às taxas de juros muito altas e ao alto grau de incerteza na economia com conseqüências muito negativas sobre o crescimento econômico.
Em suma, pela ótica macroeconômica, o processo de abertura nos anos 1990 tornou a economia brasileira suscetível a choques externos, característica que só em 2004/2005 começou a ser removida. A vulnerabilidade, por sua vez, impôs forte pressão sobre a taxa de juros doméstica, que se manteve elevada ao longo de todo o período, com conseqüências muito negativas para a expansão crescimento econômico e do emprego, os quais evoluíram pouco especialmente na área industrial, e para o déficit e o endividamento do setor público.
Evolução dos Setores. O impacto do cenário macroeconômico dos anos 1990 na estrutura produtiva pode ser avaliado através das mudanças de participação dos setores de atividade no valor adicionado e no emprego total da economia. Uma primeira observação (Tabela 2) é que de 1991 a 2003 o setor agropecuário ganha participação no PIB (de 6,9% do PIB para 9,4% do PIB), em detrimento do setor serviços como um todo (que passa de 61,1% do PIB em 1991 para 53,8% em 2003). Esse movimento foi muito influenciado pela queda do setor de instituições financeiras, devido ao fim da inflação crônica a partir de 1994.
Nesse processo, a indústria propriamente, ou seja, a indústria de transformação – a classe industrial que mais se aproxima do conceito de “indústria manufatureira”, em torno ao qual se aplicam as teses de desindustrialização – não alterou de forma significativa sua participação no PIB se tomamos os dois anos limites do período, ou seja, 1991 e 2003, quando os percentuais foram de, respectivamente, 22% do PIB e 23% do PIB.
Houve uma queda significativa no período de sobrevalorização da moeda nacional entre 1994 e 1998 (de 23,5% do PIB para 19,7% do PIB), mas que seria praticamente neutralizada no período seguinte até 2003 quando a mudança da política cambial levou a uma significativa desvalorização do Real. A propósito, essas breves referências quanto aos resultados da indústria, ilustram como o câmbio tem um grande poder sobre a dinâmica industrial brasileira. Sobrevalorizações e desvalorizações da moeda nacional são decisivas como determinantes, respectivamente, de dinâmicas industriais negativas ou positivas.
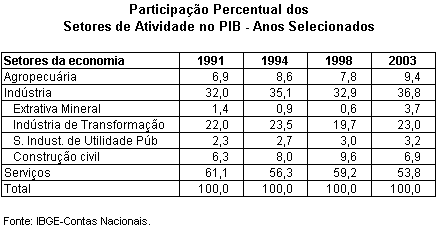
Outro destaque foi a evolução da participação no PIB do agregado das contas nacionais denominado pelo IBGE de “indústria total” e que reúne a indústria de transformação, a extrativa mineral, serviços industriais de utilidade pública (SIUP) e construção civil. Devemos enfatizar que este não é o conceito ou agregado de “indústria” relevante para as discussões sobre a dinâmica industrial e as teses de industrialização ou desindustrialização. A participação deste agregado passou de 32% em 1991 para 36,8% em 2003, devido ao aumento de importância da indústria extrativa mineral, que mais que dobrou seu percentual de contribuição. O ganho se deu no período final (entre 1999 e 2003), quando se apresentou o incentivo da desvalorização do real beneficiando as exportações de produtos dessa indústria. Os esforços de investimentos da Petrobrás na produção de petróleo foram também relevantes para o resultado.
Quanto ao emprego, os resultados mostram algumas diferenças. O setor que perdeu expressiva participação foi a agropecuária (perda de 6,9 pontos de 1991 a 2003), enquanto os serviços como um todo ampliaram sua participação de 52,2% em 1991 para 62,1% em 2003. Note-se que o emprego na indústria extrativa mineral não acompanhou o ganho do setor em termos de sua participação no PIB.
A indústria de transformação retrocedeu em termos de sua importância no emprego total (2 pontos percentuais de 1991 a 2003), apesar de praticamente ter preservado sua posição no PIB. Esses resultados da agropecuária, da indústria extrativa mineral e da indústria de transformação, de ganho ou manutenção de importância relativa no PIB e de perda de importância relativa no emprego, sinalizam que ao longo dos últimos anos ocorreram mudanças na estrutura produtiva, afetando processos de produção que se tornaram relativamente menos empregadores de mão de obra.
Devemos avaliar se a perda de participação da indústria de transformação na geração de emprego, em um contexto macroeconômico caracterizado por baixo crescimento como prevaleceu na década de 1990 e os primeiros anos da presente década, sinaliza a ocorrência de um processo de desindustrialização. Para avançarmos no tema, vamos acompanhar a evolução dos setores de atividade em termos de taxas de crescimento.
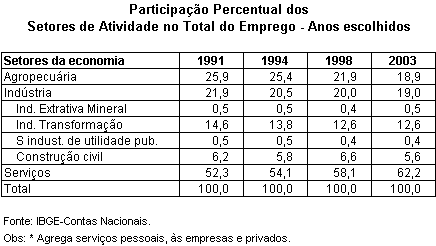
Com relação às taxas médias anuais de crescimento por setor de atividade, de 1990 a 2003, os setores líderes da evolução econômica foram extrativa mineral, serviços industriais de utilidade pública (SIUP) e agropecuária, todos com taxa média de crescimento de 3,5% aa no período como um todo. A agropecuária apresentou expressiva expansão na fase final do período. Extrativa mineral apresentou grande dinamismo depois do programa de estabilização de preços em 1994. O melhor período para a indústria de serviços de utilidade pública foi de 1995 a 1998, período mais intenso das privatizações. O dinamismo em termos de crescimento desses setores se deu com perda de participação no emprego total.
A indústria de transformação de 1990 a 2003 cresceu em média a uma taxa muito baixa: 1,8% ao ano, sendo que os anos iniciais da década de 1990 formam o período de maior crescimento (taxa média de 2,7% a.a.). O setor inclusive cresceu menor do que a economia como um todo que também pode ser considerado uma evolução baixa. O período imediatamente após a estabilização de preços e de valorização cambial foi o de pior desempenho: taxa média de 0,9% a.a.. No período mais recente, 1999/2003, o crescimento médio foi de 1,7 % a.a. e no período todo, 1,77% a.a., enquanto a evolução média anual do PIB nesses mesmos períodos foi de 2,56%, 1,78% e 2,33%, respectivamente.
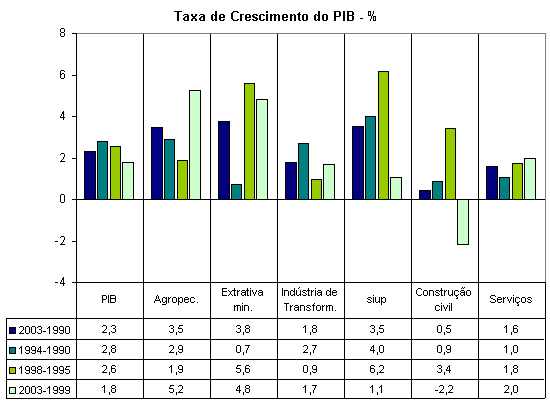
Ou seja, no período como um todo, assim como nos sub-períodos selecionados, a modesta taxa de expansão da indústria manufatureira brasileira não permitiu que ela liderasse o crescimento do PIB. Outros setores assumiram esta liderança, os quais, no entanto, não tendo a mesma força e os mesmos impactos que a indústria tem sobre a sua própria dinâmica e sobre a dinâmica de outros setores, não abriram caminho senão para um crescimento apenas modesto da economia. Outros países de maior êxito em acelerar o crescimento econômico conservam o elevado crescimento industrial como o motor que impulsiona o elevado crescimento global de suas economias. No Brasil, a precoce renúncia a este motor de crescimento pode ser considerada uma forma de desindustrialização.
Em resumo, avaliando do ponto de vista da estrutura produtiva, a indústria de transformação perdeu (entre 1994 e 1998) e recuperou (após a 1999) participação relativa no PIB brasileiro desde o início dos anos 90 até o presente. Na participação no emprego, no entanto, houve queda. Estas não são evidências que configuram a ocorrência de um processo generalizado de desindustrialização, a menos que o conceito de desindustrialização passe a incorporar o papel motor que a indústria tinha na dinâmica econômica brasileira e que deixou de ter. Neste caso, que nos parece mais correto como interpretação do processo econômico brasileiro da última década e meia, houve de fato um retrocesso industrial no sentido da perda de dinamismo da indústria o qual carregou consigo a economia brasileira como um todo, que também perdeu correspondente dinamismo.
Estrutura e Desempenho das Atividades Industriais. Tomando-se o valor adicionado da indústria de transformação, os dados mostram claramente que, entre 1991 a 2003, a estrutura desse valor adicionado tornou-se mais concentrada, com um menor número de setores respondendo por parcela maior do produto industrial.
Os maiores aumentos de participação ocorreram em siderurgia, fabricação e manutenção de máquinas e tratores, refino de petróleo e indústria petroquímica, cuja participação no valor adicionado industrial passou de 21,2% em 1991 para 37,0% em 2003. O aumento na participação dos dois últimos setores citados ocorreria na primeira metade da década e, no caso do setor de siderurgia, entre 1999 e 2003.
O impacto negativo sobre a indústria da abertura e das demais políticas adotadas nos anos 1990, se fez sentir nos setores de indústria têxtil, fabricação de artigos do vestuário e acessórios e fabricação de aparelhos e equipamentos de material elétrico, que perderam participação no produto total já no início dos anos 1990.
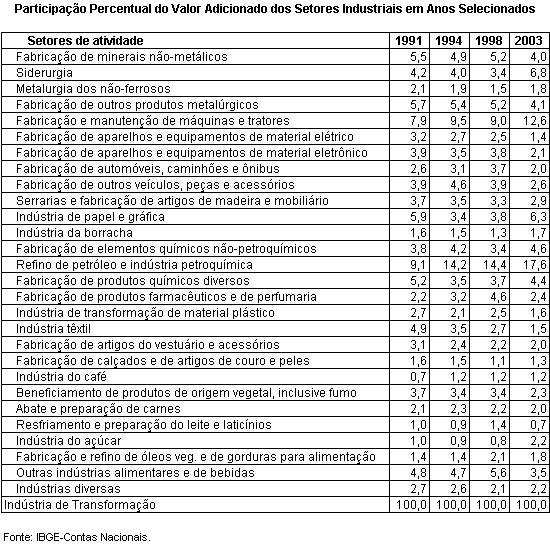
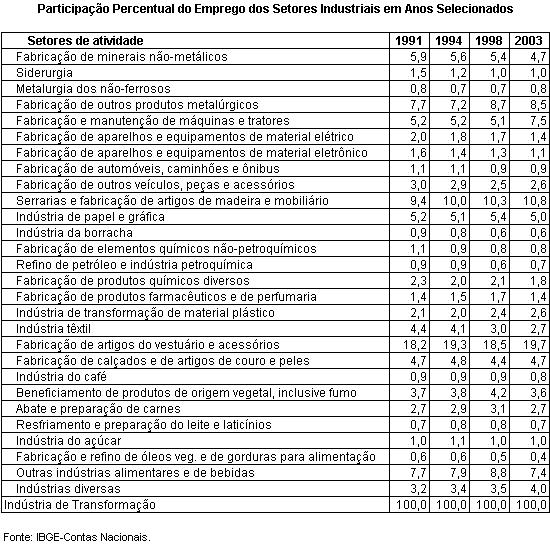
Setores que mais perderam participação, porém de forma mais acentuada no subperíodo final, foram os de fabricação de minerais não-metálicos, fabricação de outros produtos metalúrgicos, fabricação de aparelhos e equipamentos de material eletrônico, fabricação de outros veículos, peças e acessórios, indústria de material plástico, indústria do café e outras indústrias alimentares e de bebidas. Os setores que diminuíram sua participação contribuíam com 41,3% do PIB industrial em 1991 e passaram a contribuir com 37,1% em 2003.
Já a estrutura setorial do emprego sofreu mudanças de menor monta. Três setores se destacaram por aumentar sua participação no emprego de 1991 a 2003: fabricação e manutenção de máquinas e tratores, serrarias e fabricação de artigos de madeira e mobiliário e fabricação de artigos do vestuário e acessórios. O primeiro ampliou também sua participação no PIB, sendo, portanto, coerente o aumento verificado na participação no emprego. Mas no caso da indústria de vestuário e acessórios, o aumento na participação do emprego combinado com queda na participação do produto sugere uma queda de produtividade.
Dentre os setores que perderam participação, a indústria têxtil teve o maior recuo, um sinal de que neste caso é provável a ocorrência de um processo de desindustrialização. Além deste setor, os de metalurgia dos não-ferrosos, fabricação de aparelhos e equipamentos de material elétrico, fabricação de aparelhos e equipamentos de material eletrônico e fabricação de produtos químicos diversos também perderam participação. Os setores de material elétrico e de material eletrônico também perderam espaço na produção, sinalizando, como no caso da indústria têxtil, um processo de desindustrialização.
A próxima tabela permite avaliar as contribuições dos diferentes setores para o crescimento do produto total, considerando o dinamismo de cada setor e sua importância na estrutura industrial. Quatro setores se destacam pelo seu maior dinamismo: fabricação de outros produtos metalúrgicos, fabricação e manutenção de máquinas e tratores, fabricação de elementos químicos não-petroquímicos e refino de petróleo e indústria petroquímica.
Os setores de fabricação de minerais não-metálicos, fabricação de outros veículos, peças e acessórios e o de outras indústrias alimentares e de bebidas tiveram destaque entre 1990 e 1994 (correspondente ao início da década de 1990), mas não no período final (1999/2003). Os setores de siderurgia, indústria de papel e gráfica e o de fabricação de produtos químicos diversos apresentaram contribuição expressiva no final do período analisado e também apareceram como setores importantes no período como um todo (1990/2003).
Considerando a soma das contribuições dos setores mais importantes em cada período, observamos que os setores assinalados no período 1990/1994 contribuíram com 48,0% da taxa de crescimento da indústria. A contribuição dos setores mais importantes no período 1999/2003 foi de 70,1% do crescimento da indústria. Essa evolução é indicativa de que a indústria está se especializando em poucos setores, significando isso que, tendo como referência o início da década de 1990, o dinamismo industrial vem dependendo nos últimos anos de um menor número de atividades industriais. Este poderá ser considerado um sintoma de “desindustrialização relativa” no período mais recente, ou seja, já na presente década.
Uma conclusão a que se pode chegar é que as políticas adotadas e o cenário macroeconômico nos anos 1990 e início da presente década, resultaram em uma maior especialização produtiva da indústria, com ênfase em setores intensivos em recursos naturais. Os setores de química, indústrias metalúrgica e siderúrgica e de papel e gráfica (este último inclui a cadeia produtiva a produção de celulose), são os que mais propriamente pertencem à categoria de intensivos em recursos naturais. Esses setores foram os que se destacaram pelo dinamismo em termos de crescimento da produção. Juntos, respondiam por 45,7% do PIB industrial em 2003, contra 35,9% em 1991. Além desses setores, observamos que o de produção de máquinas e equipamentos agrícolas, que respondeu diretamente ao alto desempenho agrícola dos últimos anos, se consolidou como um ramo importante da indústria nacional, certamente estimulado pelo excelente desempenho do setor agropecuário.
Setores tradicionais como vestuário, e os ramos das indústrias de material elétrico e eletrônico sinalizaram perda de importância ao longo dos anos. Desse modo, podem ser apontados como casos de desindustrialização localizada. Merecem menção as indústrias do ramo de alimentos e bebidas, que não se destacaram pelo dinamismo e sofreram em conjunto pequena perda de participação na estrutura industrial, mas mantiveram relevância dentro da estrutura industrial.
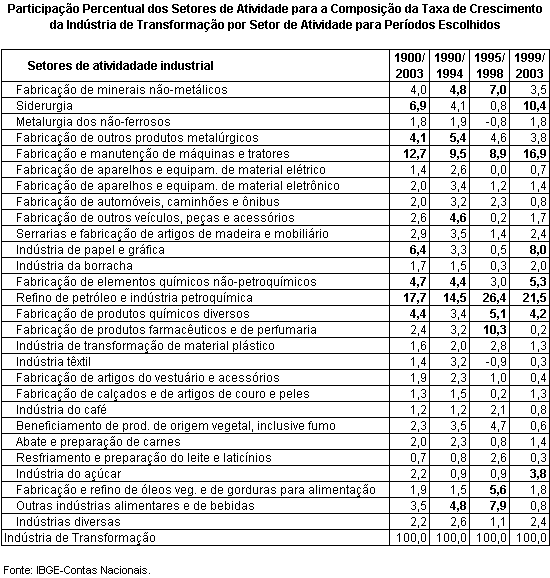
Produtividade e Emprego na Indústria de Transformação. O próximo gráfico mostra a evolução da produtividade desde os anos 1970. Na primeira década, a produtividade cresceu junto com o aumento do produto e do emprego. Esse período foi caracterizado por uma forte expansão do setor industrial. A estagnação da economia que seguiu e perdurou nos anos 1980 implicou estagnação também da produtividade, com expansões praticamente nulas do produto e do emprego. A recuperação da produtividade industrial nos anos 1990 ocorreu em um cenário macroeconômico bastante diferente dos anteriores, em função da estabilização dos preços e da abertura econômica.
<<20051129-10.gif|Fonte: IBGE Pesquisas Industriais Mensais.
Obs: No ano de 2001 não se dispõe de informação sobre emprego industrial nas pesquisas de indústria.|>>
Assim, uma primeira análise da evolução agregada da produtividade da indústria nos anos 1990 aponta no sentido de que as empresas industriais que resistiram à abertura mal conduzida e às políticas adversas no campo macroeconômico, buscaram melhorar sua eficiência o que resultou na recuperação do crescimento da produtividade. No entanto, a década de 1990 e o início da atual não se caracterizaram pelo dinamismo da indústria, ou seja, a recuperação da eficiência se deu em um cenário de baixo crescimento.
Para detalharmos o desempenho da produtividade no período de 1990 a 2003, os setores industriais foram ordenados segundo a taxa de crescimento média anual da produtividade. São apresentadas também as taxas de crescimento do produto e do emprego. O fato de maior destaque é que o aumento médio do crescimento da produtividade de 2,3% ao ano, se deu juntamente com um decréscimo no emprego de 0,5% a.a.. Todos os setores com taxas de crescimento acima da média da indústria apresentaram expansão negativa do emprego (exceto a indústria do açúcar com crescimento quase nulo). Tais evidências constituem forte indicação de que num contexto de baixo crescimento da demanda agregada, a modernização da indústria implicou ajustes nos processos de produção que se tornaram mais poupadores de mão de obra.
A evolução da produtividade ao longo do período em análise permite aprofundar a discussão sobre a desindustrialização. A indústria têxtil e de fabricação de calçados e de artigos de couro e peles, que perderam peso e dinamismo na estrutura industrial, também registraram queda no crescimento da produtividade. Além desses, a indústria de transformação de material plástico e de fabricação de artigos do vestuário e acessórios, que também perderam peso na estrutura industrial, apresentaram taxa negativa de crescimento da produtividade, porém com aumento no emprego.
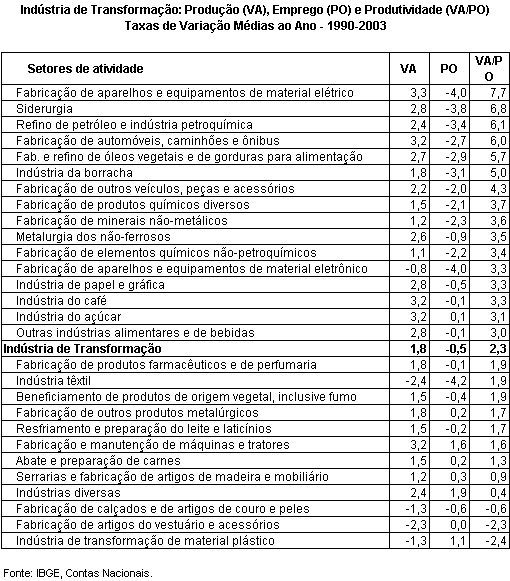
A indústria de fabricação de aparelhos e equipamentos de material elétrico foi a que apresentou maior expansão da produtividade. É também uma das que apresentou maior contração da mão de obra. Nesse caso, assim como no de fabricação de aparelhos e equipamentos de material eletrônico, a perda de importância na estrutura produtiva, não apontou para uma perda de eficiência produtiva. Possivelmente nesses setores deve ter ocorrido um processo de desindustrialização pela perda de elos da cadeia produtiva, tornando esses setores menores em termos de contribuição ao valor agregado total da indústria.
A indústria de fabricação e manutenção de máquinas e tratores, apesar de ter registrado crescimento da produtividade abaixo da média da indústria, foi o segundo setor em expansão do emprego (abaixo de indústrias diversas). Esse ramo industrial cresceu de forma significativa e apresentou ganho de eficiência produtiva.
Considerando todos os sete setores ligados à agroindústria (Indústria do café; beneficiamento de produtos de origem vegetal, inclusive fumo; abate e preparação de carnes; resfriamento e preparação de leite e laticínios; indústria do açúcar; fabricação e refino de óleos vegetais e de gorduras para alimentos; outras indústrias alimentares e de bebidas), observa-se que quatro deles registraram evolução de produtividade acima da média da indústria, consolidando a importância dos setores ligados à agricultura dentro da indústria brasileira.
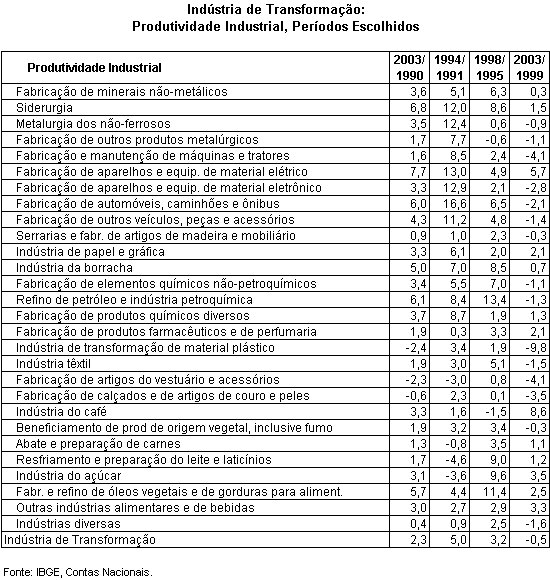
Pode-se acompanhar a evolução da produtividade por subperíodos caracterizados por conjunturas econômicas distintas: o período anterior ao Plano Real (1991-1994), de alta inflação, baixo crescimento e fase inicial do processo de liberalização comercial; pós_Plano Real (1995-1998), de estabilização de preços, valorização cambial e aprofundamento do processo de liberalização comercial e financeira; e o período após a introdução do câmbio flutuante em 1999. A cada um desses períodos as empresas reagiram diferentemente.
O primeiro subperíodo foi o de maior crescimento da produtividade industrial (5,0% ao ano, com queda no emprego de 2,2% a.a.). Nesse caso podemos interpretar o resultado como um movimento de ajuste empresarial defensivo, frente a um ambiente de elevada incerteza. Nessa fase, ainda de alta inflação com baixo crescimento (o PIB industrial cresceu 2,7% a.a.), já está em curso o processo de abertura econômica. O conjunto de setores com taxas de aumento da produtividade acima da média coincide bastante com os do período completo em análise, porém seu número é menor e inclui os setores de fabricação de outros produtos metalúrgicos e fabricação e manutenção de máquinas e tratores.
No subperíodo seguinte, quando crises de origem externa se sucederam e a expansão do PIB industrial foi mais modesta (0,95% a.a.a, com queda no emprego de 2,2% a.a.), a produtividade manteve um ritmo positivo de crescimento, sugerindo que as empresas que sobreviveram à abertura aprofundaram o processo de reestruturação produtiva favorecido pelo câmbio valorizado. Destaque para os setores ligados à agroindústria (beneficiamento de produtos de origem vegetal, inclusive fumo, abate e preparação de carnes, resfriamento e preparação do leite e laticínios, indústria do açúcar, fabricação e refino de óleos vegetais e de gorduras para alimentos) e a indústria têxtil, com evolução produtividade acima da média da indústria o que não aconteceu no primeiro subperíodo.
O período após a desvalorização do câmbio, favoreceu os setores exportadores. O crescimento do PIB da indústria foi de 1,7% a.a., com expansão no emprego de 2,2% a.a., resultando em menor produtividade na média do setor. Quinze dos vinte e oito segmentos da indústria acusaram declínio na produtividade nesse período, principalmente em setores como material plástico (-9,8%), vestuário e máquinas e tratores, ambos com variação negativa de 4,1%.
Merecem destaque do lado positivo os setores de processamento de café (+8,6%) e material elétrico (+5,7%). Todos os ramos industriais ligados à agroindústria, como no período anterior, continuaram a apresentar bom desempenho.
Em suma, nas três fases analisadas, o aumento da produtividade em duas dessas etapas se deu com crescimento do produto e queda no emprego. Isto ocorreu nas fases de ajuste defensivo (1991-1994) e de reestruturação (1995-1998). Nos anos finais da década, o emprego cresceu, mas a produtividade estagnou, apontando para o esgotamento do processo que possibilitou a retomada do aumento de produtividade industrial nos anos iniciais da década.



